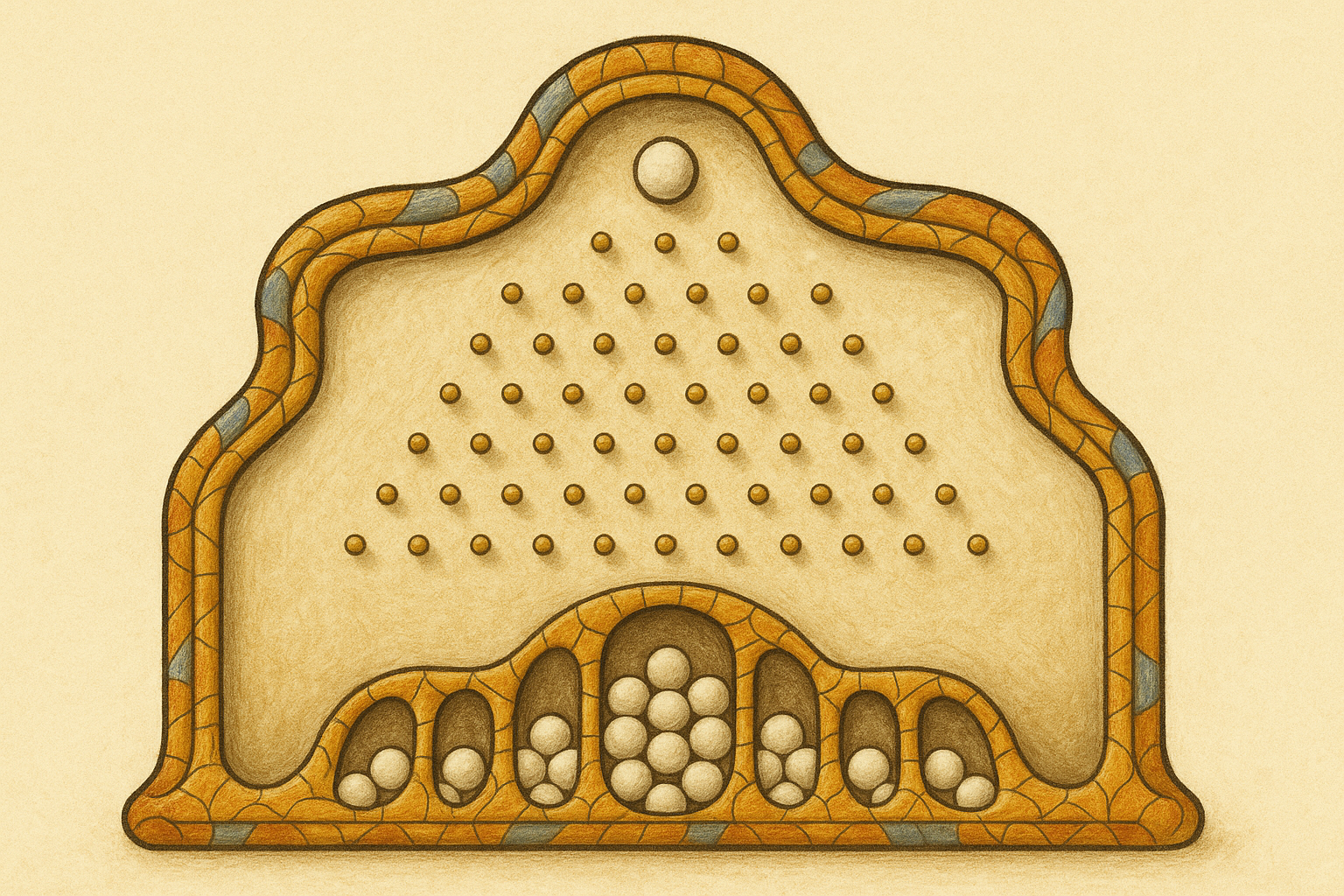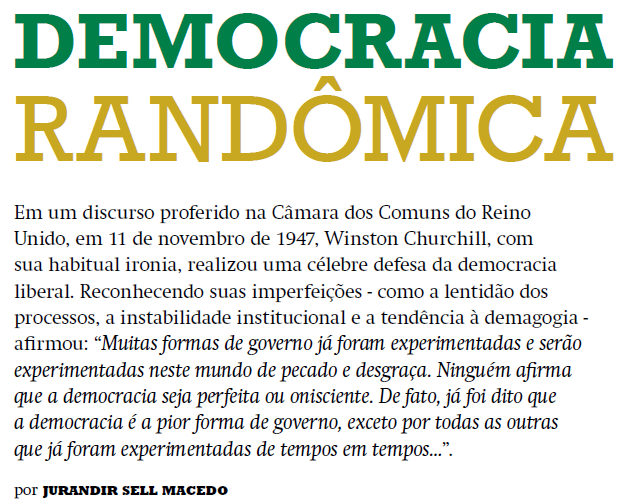
A democracia surgiu em Atenas, no século VI a.C., como uma reação ao tiranismo e às oligarquias que predominavam na Grécia Antiga. Buscava distribuir o poder político mais amplamente entre os cidadãos, evitando sua concentração nas mãos de um único governante ou de uma elite restrita. Contudo, ainda era um regime restritivo, pois somente uma minoria participava: homens livres, maiores de 30 anos, nascidos em Atenas e com plenos direitos civis. Mulheres, escravizados e estrangeiros eram inteiramente excluídos da participação política.
Passei minha juventude sob a égide de um regime autoritário e vivenciei, em primeira pessoa, os horrores daquele período. Como jovem universitário, participei ativamente das manifestações das “Diretas Já”. Como milhões de brasileiros, sofri com a derrota da Emenda Constitucional Dante de Oliveira no Congresso Nacional. Vibrei com a vitória de Tancredo Neves sobre o candidato dos militares e, logo depois, fui tomado pela dor com sua morte — ele, que simbolizava, para muitos de nós, a união e a esperança em um novo Brasil. Recordo com orgulho meu primeiro voto para presidente, seguido, entretanto, pela frustração de, no segundo turno, precisar escolher entre candidatos que representavam, para mim, apenas o mal menor.
Desde então, testemunho uma inquietante intensificação da polarização política, reduzida cada vez mais a um confronto entre extremos. Radicais de direita e de esquerda encontram nas redes sociais um terreno fértil, onde discursos exaltados e intolerantes prosperam, marginalizando as vozes moderadas que frequentemente apontam soluções mais equilibradas e razoáveis.
A imprensa, que no século XIX foi elevada à condição de “quarto poder” por sua capacidade de fiscalizar o Estado, enfrenta hoje desafios sem precedentes. No século XX, a existência de uma imprensa livre consolidou-se como um dos pilares fundamentais para avaliar o grau de maturidade democrática de um país. Contudo, interesses econômicos e políticos cada vez mais poderosos fragilizam sua independência. No século XXI, as redes sociais — embora ampliem o acesso à expressão pública — multiplicam discursos extremistas, desinformação e bolhas ideológicas, pois carecem de mediação editorial e algoritmos priorizam engajamento sobre precisão.
O resultado é um ambiente político fragmentado, no qual o debate público se degrada em confrontos constantes e as instituições representativas sofrem uma preocupante crise de legitimidade. A confiança nos partidos e nos parlamentos diminui, a participação cívica enfraquece e ganha força a negação da política, dos parlamentos e até mesmo do próprio Judiciário como espaços legítimos para construção do bem comum.
É fácil concordar com Churchill ao reconhecer que a democracia é imperfeita, mas que ainda não se descobriu um regime superior a ela. Contudo, é legítimo questionar se não poderíamos aprimorá-la, especialmente diante dos custos cada vez mais elevados de elegermos extremistas. Mesmo uma das democracias mais consolidadas do mundo, como a americana, vem arcando com prejuízos financeiros astronômicos e enfrentando resultados extremamente incertos em razão da escolha de um líder radical.
Nesse contexto, ganha força a proposta da democracia randômica — ou sortitiva — como alternativa à democracia representativa tradicional. Nesse modelo, os representantes não seriam escolhidos por eleições diretas, mas selecionados por sorteio, tal como ocorria em Atenas, onde vários cargos públicos eram preenchidos por aleatoriedade. A lógica por trás disso é simples: o sorteio elimina vieses pessoais, influências econômicas e a corrupção inerente às campanhas eleitorais.
Atualmente, duas iniciativas se destacam na defesa e experimentação da democracia randômica: a Sortition Foundation, sediada no Reino Unido, e a Democracy R&D, uma rede internacional que auxilia governantes na tomada de decisões complexas e na construção da confiança pública.
A democracia randômica propõe que cidadãos sejam sorteados para integrar assembleias ou conselhos temporários, encarregados de debater e decidir sobre políticas públicas. A seleção utiliza critérios que garantem diversidade demográfica e regional, refletindo fielmente a composição social em termos de idade, gênero, origem social e outras variáveis.
Tomemos como exemplo a reforma do Imposto de Renda, atualmente em discussão no Congresso Nacional. Poderia ser formada uma amostra estratificada da população brasileira, cujos integrantes seriam sorteados. A Justiça Eleitoral arcaria com os custos envolvidos, incluindo a manutenção dos salários e a compensação financeira aos empregadores pela ausência temporária desses cidadãos. Durante um período determinado, ausente das redes sociais, esses cidadãos debateriam com economistas, empresários, representantes do governo e especialistas contrários e favoráveis às propostas, tomando uma decisão informada e coletiva.
Esses “conselhos de cidadãos” poderiam ser convocados para diversas decisões e, futuramente, à medida que o sistema fosse assimilado pela sociedade, até mesmo para a escolha dos mandatários do Poder Executivo ou dos integrantes do Supremo Tribunal Federal.
Entre as vantagens desse modelo destacam-se a ampliação da representatividade, a redução da corrupção e a promoção de decisões mais fundamentadas e racionais, livres das distorções das fake news — especialmente preocupantes com a expansão da inteligência artificial. Ao permitir que cidadãos comuns participem diretamente da elaboração de políticas, o modelo fortalece a legitimidade das decisões públicas e contribui para a renovação das instituições democráticas. A ausência de caras campanhas eleitorais elimina incentivos ao populismo e reduz significativamente a influência do lobby e do financiamento privado.
Vivemos um momento desafiador para as democracias, em que o espectro do tiranismo ronda democracias que pareciam sólidas. A insatisfação com a política tradicional e a crescente fragmentação social impelem a busca por novas formas de participação. Toda inovação parece, a princípio, absurda, porém, diante das ameaças do presente, o imobilismo pode ser ainda mais perigoso.